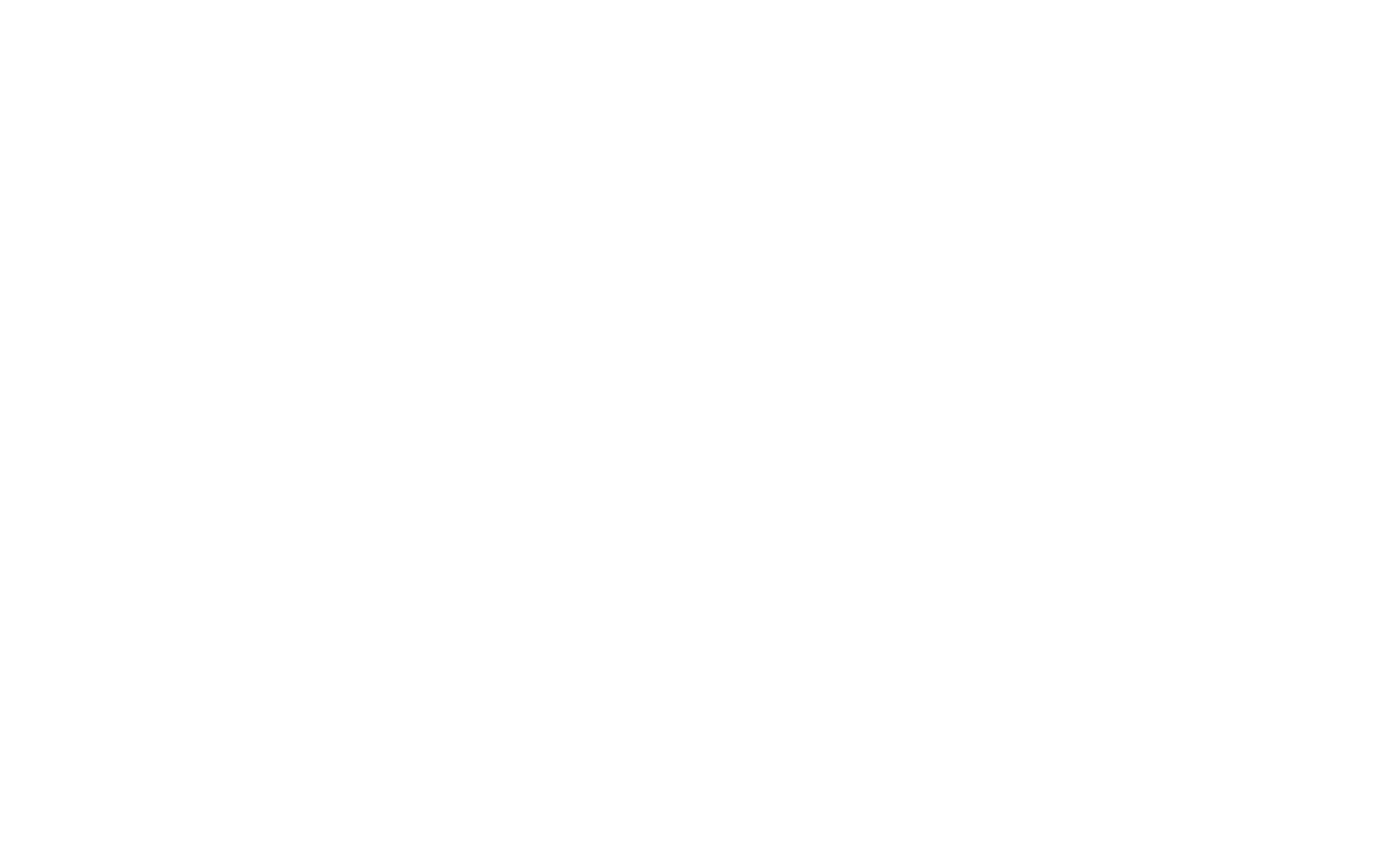Êxtase e Amnésia na Faixa de Gaza
Por Shany Mor, para o Mosaic (mosaicmagazine.com) em 6 de novembro de 2023
Há algo incomum na situação palestina.
Não são as fronteiras difíceis, as contingências históricas e as identidades sobrepostas inerentes à definição do povo palestino. Eis que tudo isso é verdade para todas as nações, desde as que se baseiam na etnia ou na religião até as que se baseiam no credo cívico-constitucional. Da mesma forma, não importa que a história invocada na criação do povo palestino seja unilateral e em parte mítica. Isso também não é incomum e provavelmente até mesmo universal.
Também não é incomum que a violência tenha sido um meio de alcançar os objetivos palestinos. Onde quer que tenha havido conflitos do tipo do que envolve palestinos e Israel, os partidários de um lado ou de outro justificarão o uso da força pelo seu próprio lado e o condenarão quando vier do outro lado. A estranheza também não tem nada a ver com o fato de existirem reivindicações reais e prementes sobre territórios (entre outras coisas) que não serão alcançáveis por qualquer manobra diplomática ou militar concebível, incluindo as reivindicações sobre locais que têm enorme importância simbólica e histórica para eles. Esta frustração também se aplica aos polacos, búlgaros, gregos, armênios e, aliás, também aos israelenses.
O incomum na causa palestina começa pela observação de que, diferente de muitas das outras nações, ela não tenta construir um Estado em partes de pátrias históricas a partir das ruínas de impérios multinacionais, multilinguísticos e multiconfessionais em colapso. Este fato não é inteiramente culpa deles, mas quando lhes foi dada a oportunidade de estabelecer um Estado, eles a rejeitaram repetidas vezes. Isto porque a principal demanda da causa palestina, revelada nessas rejeições da soberania e também numa retórica que atravessa gerações, não é a ausência de um desejado Estado-nação, mas a inexistência de outro. A hierarquia de objetivos que se segue a esta queixa – nenhum Estado para nós sem o desaparecimento do Estado para eles – contribui enormemente para a situação palestina.
Qual é sua característica? Não é definida apenas pela nacionalidade sem a condição de Estado; esses dois fatores por si só não seriam únicos. Em lugar disso, ela é definida por cinco características terríveis: nacionalismo e falta de pátria combinadas com deslocamento, ocupação e fragmentação.
O argumento deste texto é que a situação palestina é o resultado direto ou indireto de três guerras árabe-israelenses, cada uma com cerca de uma geração de diferença - as guerras que começaram em 1947, 1967 e 2000. Cada guerra foi um acontecimento complexo com amplas consequências imprevistas e controvertidas para uma série de intervenientes, mas cujas consequências para o povo palestino foram singularmente catastróficas: a primeira trouxe o deslocamento, a segunda trouxe a ocupação, a terceira trouxe a fragmentação.
Estas três guerras são tão diferentes umas das outras – na sua duração, nos beligerantes envolvidos, no contexto global que as rodeia e molda – que é difícil, à primeira vista, pensar nelas como um conjunto, como um grupo que merece algum tipo de análise coletiva. Mas são, na verdade, as diferenças extremas entre elas que servem para realçar as características únicas que partilham – isto é, as características únicas que estão na origem da situação palestina.
Estou simplificando as coisas, é claro. Concentrar-se apenas em três guerras, nem mesmo necessariamente nas mais mortíferas guerras árabe-israelenses, é um artifício. Há outros acontecimentos que tiveram efeito sobre a situação atual dos palestinos, desde a guerra civil na Jordânia em 1970, à guerra civil muito mais longa e sangrenta no Líbano, entre 1975 e 1990, à primeira Guerra do Golfo, à ascensão e queda do pan-Arabismo e a subsequente ascensão do islamismo político. Mas, na minha opinião, o impacto destes outros desenvolvimentos ou é pequeno em comparação com as três guerras, ou o seu impacto está incluído nas próprias três guerras.
Nos últimos anos pensei muito nessas três guerras como um conjunto conceitual. Isto porque está claro para mim desde cerca 2020 que, provavelmente, uma quarta guerra seria em breve acrescentada ao conjunto; e claro que, tal como antes, o formato que essa guerra tomaria não se assemelharia às outras; e claro que, tal como antes, o resultado dela para o povo palestino e para a causa palestina seria catastrófico.
I. Três guerras diferentes
Superficialmente, as três guerras cruciais não poderiam ser mais diferentes umas das outras. A guerra que começou em 1947, conhecida pelos israelenses na Guerra da Independência, foi primeiro uma guerra civil entre árabes e judeus na Palestina, e depois uma guerra multiestatal envolvendo exércitos consideráveis de pelo menos cinco países soberanos – Egito, Transjordânia, Síria, Iraque e Israel – bem como pequenos contingentes de outros países. Foi uma guerra travada aldeia por aldeia e cidade por cidade, e resultou em deslocamentos maciços de população em ambos os lados.
Nenhum judeu permaneceu em qualquer parte da Palestina que caiu sob controle árabe. Algumas vezes eles fugiram urgentemente de uma zona de combate sem a intenção de que tal fuga se tornasse permanente; ocasionalmente foram massacrados (como em Kfar Etsion) ou saíram de suas casas sob termos de rendição após derrota em batalha (como no Bairro Judeu da Cidade Velha de Jerusalém); mas com mais frequência do que as pessoas gostariam de lembrar, foi uma preferência principalmente voluntária de não viver sob o domínio árabe. Por uma combinação semelhante de motivações, apenas uma minoria de árabes em partes da Palestina que ficaram sob controle israelense também ficou para trás. Muitos mais foram deslocados no lado perdedor da guerra do que no lado vencedor; os refugiados judeus foram rapidamente reassentados e os refugiados árabes não.
A divisão étnica foi mais pronunciada no centro do país. Ao contrário do Norte, onde tudo caiu nas mãos de Israel, e do Sul, onde o mesmo aconteceu com exceção a uma pequena faixa de terra na costa em torno da cidade de Gaza, no centro, mais terras foram conquistadas pela Legião Árabe do que pelo exército de Israel. Este território incluiu muitos locais de importância religiosa e simbólica para ambos os lados. Tornou-se então conhecida como Cisjordânia e situa-se num pedaço de terra menor do que o que tinha sido atribuído a um futuro Estado Árabe Palestino na rejeitada proposta de partilha da ONU que precedeu a guerra.
A Linha Verde, assim chamada porque assim foi marcada nos mapas de armistício ao final da guerra, separa a estreita faixa de terra (hoje israelense) situada na planície costeira central da Cisjordânia. Quase nenhuma população árabe permaneceu a oeste da Linha Verde. Com poucas exceções, os poucos locais no centro de Israel que hoje têm população árabe significativa não foram efetivamente conquistados pelo exército de Israel na guerra; eles eram, em grande parte, territórios controlados pelo exército invasor iraquiano e que foram cedidos a Israel no armistício.
Para os árabes, a derrota nesta guerra foi e continua a ser um trauma terrível. Nenhum regime ou governante envolvido permaneceu no poder por muito tempo depois da guerra. Não só o objetivo que uniu os árabes em 1948 – impedir o estabelecimento de um Estado judeu no coração do Oriente Médio árabe – foi frustrado, como centenas de milhares de árabes que viviam na Palestina foram deslocados pela guerra. Com o tempo, seu deslocamento tornou-se a imagem duradoura dessa derrota e humilhação.
A guerra de junho de 1967 foi muito diferente. Não foi travado aldeia por aldeia e cidade por cidade, e não envolveu nenhuma milícia desorganizada. Na maior parte, também não envolveu civis envolvidos em combate direto. Foi, em vez disso, uma guerra em três frentes travada por quatro exércitos diferentes pertencentes ao Egito, Jordânia, Síria e Israel. Tudo aconteceu tão rapidamente que os avanços militares não levaram a nenhuma das grandes mudanças demográficas que seriam esperadas numa guerra mais longa, exceto talvez no Golan, que Israel conquistou à Síria. (Israel também tomou o Sinai do Egito, mas muito menos pessoas viviam lá. Em 1973, Israel travaria outra guerra, muito mais difícil, em ambos os territórios, e eventualmente retirar-se-ia deste último em troca da paz e anexaria o primeiro.)
Mas não foram as conquistas do Sinai e do Golan que alteraram a situação palestina. Foram as conquistas da Faixa de Gaza ao Egito e da Cisjordânia à Jordânia que colocaram milhões de árabes palestinos sob o domínio israelense. Os palestinos deixaram de ser um povo definido por sua expropriação às mãos de um inimigo odiado do outro lado de uma fronteira fechada, para se tornar um povo definido por sua expropriação às mãos de um inimigo odiado, mas que agora também os governava como ocupantes. Ao contrário do mais amplo trauma árabe da derrota, que foi em grande parte encapsulado no tempo pelo fim do combate real, para os palestinos este continua a ser um trauma contínuo, que chega até o presente.
Uma geração depois de 1967, eclodiu outra guerra, mais uma vez de caráter completamente diferente da primeira e da segunda. Esta guerra nem sempre é considerada uma guerra, embora o tenha sido. A segunda intifada não envolveu exércitos em linhas de frente distantes. Nem envolveu milícias que lutavam por aldeias específicas com ondas de refugiados que fugiam dos combates. Houve uma campanha de ataques terroristas contra civis israelenses, incluindo ataques a tiros que foram na sua maioria (mas não inteiramente) dirigidos aos colonos, juntamente com uma campanha de atentados suicidas dentro de cidades israelenses. Ocorreram confrontos armados ocasionais entre o exército de Israel e as forças da Autoridade Palestina ou entre o exército de Israel e combatentes de várias facções armadas palestinas. E na Cisjordânia havia algo que parecia menos uma guerra civil ou uma guerra convencional e mais uma guerra assimétrica ou uma campanha de contra-insurgência levada a cabo por um exército ocupante que levou anos para se transformar numa vitória do lado israelense.
Quando a guerra terminou, ambos os lados tinham perdido milhares de vidas, a economia palestina estava destruída e a maior parte da Cisjordânia estava atrás de uma barreira de segurança israelense, tal como toda Gaza, os dois lados efetivamente isolados um do outro. O Estado Palestino em formação a partir da década de 1990 entrou em crise de fragmentação disfuncional, e tudo o que o mantinha funcionando era a ameaça de desmoronar de vez e ocasionar algo ainda pior.
II. Três guerras semelhantes
Estas três guerras são muito diferentes no formato – mesmo se tratando de três guerras travadas pelos (aproximadamente) mesmos lados. No entanto, em vários aspectos cruciais, elas são bastante semelhantes. Por um lado, todas estas três guerras foram precedidas por meses de excitação no mundo árabe e por uma retórica acalorada que era simultaneamente justa e violenta. Justa no sentido de que a causa do ataque aos judeus era considerada um bem absoluto e uma exigência moral impregnada de conotações teológicas. Violenta porque a retórica pregava, muitas vezes abertamente, pelo extermínio dos judeus.
Esse padrão foi posto em prática na primeira das guerras. A votação da Assembleia Geral da ONU, em 29 de Novembro de 1947, para dividir a Palestina Britânica em dois estados, um judeu e um árabe, desencadeou, quase imediatamente, uma explosão de violência contra as comunidades judaicas locais na própria Palestina e em todo o mundo árabe. Se houve dúvidas sobre a justiça da causa pela qual se lutava – impedir o estabelecimento de um Estado judeu – há poucos registros disso. Se houve dúvidas sobre a moralidade dos métodos empregados – cercos que bloqueavam alimentos e água e ataques a civis judeus de todas as idades, onde quer que pudessem ser encontrados em cidades, vilas e aldeias – não há registros disso. Se houve dúvidas não apenas sobre a moralidade, mas também sobre a sabedoria de uma guerra total contra o novo Estado judeu – preocupação, por exemplo, de que o lado árabe pudesse perder e, como resultado, acabar em pior situação – também não há registros disso.
O que é surpreendente, então, é que uma guerra que foi iniciada com tanta vontade, com tanta unanimidade e com tanto entusiasmo, possa mais tarde ser lembrada como uma história de pura vitimização. No entanto, antes mesmo de a guerra terminar definitivamente, o intelectual sírio cristão Constantin Zureiq (1909-2000) publicou um apaixonado lamento sobre o fracasso árabe em derrotar Israel, Maʿna an-Nakba (O Significado do Desastre [Nakba]), dando origem à palavra que seria usada como denominação para a traumática derrota árabe naquela guerra.
Com o passar do tempo, as memórias dessa derrota evoluíram e a Nakba tornou-se não um evento árabe, mas um evento palestino, e não uma derrota humilhante – “sete Estados árabes declaram guerra ao sionismo na Palestina [e] param impotentes diante dele” é assim que ela está descrita na primeira página do livro de Zureiq – mas sim uma história de vergonha e de deslocamento forçado. A palavra em si só passou a ser usada popularmente no ocidente por volta do 50º aniversário daquela guerra, como uma descrição desse deslocamento e não de uma guerra – uma história de sofrimento injusto e aflição colonial misturada com uma inveja transparente do Holocausto, que seria a sua principal causa.
A mesma dinâmica repetiu-se vinte anos depois. As semanas que antecederam a guerra de 1967 também foram, no mundo árabe, um período de demonstrações públicas de êxtase. A hora da “vingança” estava próxima e a excitação foi expressa tanto em espetáculos públicos de massa como na opinião da elite. O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser prometeu a uma multidão exultante, na semana anterior ao início da guerra, que “o nosso objetivo básico é destruir Israel”. Descrições contemporâneas da atmosfera “de carnaval” no Cairo, em maio de 1967, relatam que a cidade estava “enfeitada com cartazes sinistros mostrando soldados árabes a disparar, esmagar, estrangular e desmembrar judeus barbudos e de nariz adunco”. Ahmed Shukeiri, então líder da OLP, prometeu que apenas alguns judeus sobreviveriam à guerra que se aproximava.
É claro que a promessa de vingança não se concretizou e a expectativa não foi realizada. Os árabes foram rapidamente derrotados e quase todos os judeus sobreviveram. Depois, porém, apesar do incitamento à guerra e da euforia perante sua perspectiva, esta derrota foi reconcebida não apenas como uma história de perda, mas outra vez como uma história de vitimização. As fantasias anteriores à guerra foram esquecidas; como tudo o mais na guerra de 1967, este processo aconteceu muito rapidamente. Na Resolução de Cartum que rejeita qualquer acomodação com Israel acordada pela Liga Árabe menos de três meses depois, a guerra é referida, sem ironia, como a “agressão [israelense] de 5 de junho.”
Tal como aconteceu com a primeira guerra árabe-israelense, as memórias se expandiram e se cristalizaram com o tempo, e a mitologia da derrota passou a assumir dimensões muito maiores do que o tamanho da guerra ou da própria derrota. É assim que os principais aniversários da Guerra dos Seis Dias foram em grande parte assinalados no mundo árabe como 20, 40 ou 50 anos desde “o início da ocupação”. Na medida em que houve um mínimo acerto de contas com o fracasso dos árabes em 1967, foi com erros militares e não com o objetivo geral de se vingar e de eliminar Israel do mapa.
Quanto a 2000 e às negociações de paz de Camp David, a história habitual tende a centrar-se no próprio Yasser Arafat, nos seus cálculos e, dependendo na perspectiva, suas deficiências. A recusa de Arafat em aceitar um Estado palestino em toda a Faixa de Gaza e em quase toda a Cisjordânia foi de fato trágica e equivocada. Porém, por si só, isso não é notável. Muitos líderes fazem escolhas erradas. Nos anais da história, a lista de nações que perderam oportunidades de resolução pacífica de litígios apenas para acabarem em situação pior não é curta, e nem os palestinos nem os israelenses são seus piores casos.
O que é surpreendente na recusa de Arafat em aceitar o acordo oferecido em Camp David – um Estado em toda Gaza e em mais de 90 por cento da Cisjordânia, incluindo uma capital em Jerusalém Oriental – e na sua subsequente guinada para o confronto violento é a forma como ela foi e permanece popular. Não houve em nenhuma parte da política palestina um campo minoritário que se opusesse a esta medida, que alertasse contra suas possíveis consequências, que organizasse protestos e galvanizasse os partidos da oposição. Nem houve, no mundo árabe mais amplo, qualquer resistência real por parte dos governos ou do público. Na comunidade pró-Palestina mais ampla de ONGs, ativistas e intelectuais, não houve vozes que considerassem a decisão um erro, assim como não houve cartas angustiadas de apoiadores de longa data da causa Palestina que não suportaram vê-la se perder.
Tal como aconteceu 30 e 50 anos antes, nos meses que se seguiram a Camp David e já na segunda intifada, a retórica foi tão militante como sempre, e também triunfalista. Um comunicado oficial de Agosto de 2000, depois de Camp David e antes da intifada, saudou a unanimidade das facções palestinas com relação à rejeição de um acordo da paz em Camp David e o “senso de exaltação e vitória” que ela gerou.
Os moderados sustentaram que um surto controlado de violência poderia melhorar a posição palestina em qualquer negociação futura, uma conclusão errada, mas um tanto compreensível, eis que foi concluída a partir da experiência dos chamados motins do túnel de 1996, quando uma alegação forjada de que Israel havia cavado um túnel sob a mesquita de al-Aksa serviu de pretexto para três dias de violência durante os quais as forças armadas que os palestinos tinham sido autorizados a formar pelos acordos de paz de Oslo apontaram as suas armas contra os israelenses; o resultado foi uma posição palestina melhorada nas negociações. (Marwan Bargouti, o líder da Fatah mais identificado com a guinada para a violência em 2000, referiu-se explicitamente a este acontecimento anterior como uma lição sobre o que poderia ser alcançado combinando violência com negociações.) Enquanto isso, vozes menos moderadas esperavam que uma guinada para a violência depois de Camp David teria conseguido replicar o que foi visto como o sucesso do Hezbolá ao forçar uma retirada total de Israel do sul do Líbano no início de 2000, sem que Israel recebesse em troca qualquer tipo de acordo de paz.
É importante aqui fazer uma pausa e considerar o que exatamente estava em jogo em 2000 e nos anos imediatamente posteriores. Ao longo dos sete anos do processo de Oslo, de 1993 a 2000, a Autoridade Palestina foi estabelecida na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Os palestinos tiveram, pela primeira vez, um governo eleito, uma assembleia representativa, passaportes, carimbos, um aeroporto internacional [1], uma força policial armada e outras instituições daquilo que era, em todos os sentidos, um Estado em formação. O que foi perdido em Camp David foi tudo isso mais o que poderia ser conquistado depois: a criação de um Estado, Jerusalém, uma evacuação maciça de assentamentos. (A expansão da presença territorial da Autoridade e dos seus poderes soberanos ocorreu apesar do seu fracasso em cumprir até mesmo os requisitos mais básicos dos acordos de paz que assinou com Israel, incluindo a prevenção de ataques terroristas contra israelenses e o ato simbólico, mas evidentemente impossível, de revogar a carta fundadora da OLP e seu apelo à destruição de Israel.)
O que aconteceu, em vez disso, foi uma onda de violência palestina durante a qual os ataques suicidas se tornaram o meio e a metáfora de todo o esforço, em linha com a hierarquia de objetivos – eliminar Israel em detrimento da liberdade – que tem sido a preferência inter generacional de líderes palestinos. Em vez disso, um povo à beira da libertação sofreu mais de três mil mortes na guerra e a podridão moral causada pela veneração do suicídio e do assassinato.
O aeroporto palestino não existe mais, assim como a companhia aérea palestina. Os dois territórios palestinos estão isolados um do outro. Um deles está atrás de uma cerca cujo contorno foi decidido unilateralmente por Israel e não num acordo negociado; o outro sofre um bloqueio. Os assentamentos na Cisjordânia que poderiam ter sido evacuados através de um tratado de paz há vinte anos são hoje maiores do que nunca.
Poder-se-ia esperar um maior acerto de contas após este terceiro desastre palestino. Mas, mais uma vez, a perda transformou-se rapidamente em vitimização.
III. Símbolos e Geopolítica
Três gerações. Três guerras diferentes. Três modos diferentes de combate. Nas três vezes, as guerras foram precedidas por pronunciamentos grandiloqüentes e excitação popular, bem como por amplo apoio intelectual.
E nas três vezes, assim que, ou mesmo antes da derrota acontecer, a excitação e o frenesi foram extirpados da memória coletiva, de modo que o acontecimento passou a ser lembrado como um caso de pura crueldade por parte dos israelenses. Em poucas palavras, essa é a raiz da situação palestina.
O historiador alemão Wolfgang Schivelbusch (1941-2023) escreveu um livro magistral sobre este fenômeno chamado The Culture of Defeat (A Cultura da Derrota). Nele, ele descreve a forma como as nações derrotadas podem ressignificar as suas derrotas militares como vitórias morais e remodelar as suas próprias histórias para transmutar o fracasso em injustiça cósmica, com todas as fantasias de vingança que a injustiça cósmica acarreta. Um dos exemplos mais familiares disto é a causa perdida do Sul dos Estados Unidos, a mitologia que transformou os objetivos racistas e imorais da rebelião confederada numa tradição pura e nobre de virtude agrária e etiqueta aristocrática que se opõe à modernidade voraz e ao capitalismo. Ao contrário do ditado de que a história é escrita pelos vencedores, durante a maior parte do século após a Guerra Civil Americana, foi o lado perdedor que dominou a forma como a guerra foi ensinada e representada na alta cultura, nos livros didáticos, nos monumentos e nos filmes de Hollywood. Tal como aconteceu com a Nakba palestina, o ponto alto deste revisionismo ocorreu por volta do 50º aniversário da própria guerra, quando a geração que a lutou começou a morrer, e a urgência de transformar tanto a derrota humilhante como a causa contaminada em algo mais nobre do que a verdade, tornou-se mais agudo.
A razão para isto é fácil de compreender: a autorreflexão crítica é torturante, e o que já é difícil para uma pessoa é insuportável para uma comunidade política. Para os palestinos, o reconhecimento dos erros nestas guerras aproximar-se-ia demasiadamente do reconhecimento de que o propósito que os motiva está inseparavelmente ligado à suas derrotas. As tragédias que caem sobre nós como raios inesperados exigem muito menos introspecção do que nossas próprias escolhas e ações. Mas transformar a derrota auto-causada numa vitimização nobre não é apenas a-histórico – é uma quase garantia de que a derrota se repetirá.
No caso das guerras árabe-israelenses, é notável que, embora existam narrativas amplamente divergentes sobre todas elas – por exemplo, tanto o Egito como Israel acreditam que venceram em 1973 – este processo de reimaginar a derrota como uma vitória moral da vitimização foi realmente um fator apenas nas três guerras que são o foco deste texto, as três guerras que essencialmente criaram os contornos da situação palestina. Somente isso já bastaria para justificar meus argumentos, mas há ainda dois outros aspectos destas três guerras que merecem alguma atenção.
A primeira é a centralidade de Jerusalém como símbolo emocional e como local de confronto mortal entre os dois lados, uma história que remonta antes mesmo de 1947. O grande mufti de Jerusalém, Amin al-Husseini, espalhava rumores de profanação judaica da Mesquita de al-Aksa para estimular a violência árabe desde 1929, e houve uma batalha muito real por Jerusalém durante a Guerra da Independência. Então, após a vitória israelense em 1967, foi a perda de Jerusalém que mais pesou na mente árabe. Em 2000, a visita do parlamentar israelense Ariel Sharon [2] ao Monte do Templo foi o pretexto para o início da guerra, ainda conhecida pelos palestinos como a intifada de al-Aksa.
Tal como acontece com a conversão da derrota em vitimização, o fator Jerusalém aplica-se a estas três cruciais guerras árabe-israelenses, mas não às outras, que foram travadas no Canal de Suez, em Beirute, em Gaza, na zona de segurança do sul do Líbano, e assim por diante; algumas foram mais sangrentas e prolongadas do que as guerras que começaram em 1947, 1967 e 2000. É difícil determinar se esta correlação é causa ou efeito de uma causa comum, ou simplesmente uma coincidência. Provavelmente, uma guerra travada por algo tão essencial para as identidades de ambos os lados – o local mais sagrado do Judaísmo e o terceiro mais sagrado do Islã – carregará necessariamente mais bagagem simbólica e deixará necessariamente uma cicatriz maior para o lado perdedor.
Um segundo aspecto importante das três guerras, bem como da dinâmica emocional que impulsiona a situação palestina, é que em cada uma delas a causa palestina foi envolvida por uma luta global mais ampla: primeiro a Segunda Guerra Mundial, depois a guerra fria, depois a guerra jihadista contra as sociedades livres. A Palestina serviu como um excelente grito de guerra para outros; para os palestinos, o resultado nunca foi bom.
A violência e o deslocamento de 1947-49 no Oriente Médio foram mais uma frente na luta global entre os povos que se alinharam com os alemães e outras potências do Eixo na guerra e aqueles que se alinharam com os Aliados. Em episódios que foram em grande parte apagados da memória histórica, estes conflitos, alinhamentos e deslocamentos não terminaram com o fim da guerra em 1945. Os Países Baixos, por exemplo, começaram a expulsar a sua população alemã em 1946 e continuaram até 1947; a expulsão de milhões de alemães étnicos da Europa oriental aconteceu mais ou menos na mesma época; e a maior parte do êxodo da Ístria, a transferência em massa de um quarto de milhão de italianos étnicos do que hoje é o noroeste da Croácia, ocorreu em 1953-54.
Décadas depois de 1948, a propaganda soviética apresentaria o nascimento de Israel como uma aventura imperialista. Mas, como mostra o livro de 2022 do historiador Jeffrey Herf (1947 - ), Israel’s Moment (O Momento de Israel), os governos ocidentais imperialistas [3] foram hostis ao sionismo, enquanto os anti-imperialistas, tanto na esquerda ocidental como os comunistas e socialistas no oriente e no ocidente, lhe foram simpáticos. Os argumentos anti-sionistas dos estados árabes e da liderança palestina foram enquadrados numa linguagem que era conscientemente supremacista e abertamente racista, até mesmo fascista, lembrando intencionalmente a linguagem dos seus aliados do tempo de guerra. O segredo do sucesso diplomático do sionismo no final da década de 1940 deveu-se, na análise incisiva de Herf, ao momento fortuito em sua hora de maior necessidade, pouco antes da coligação antifascista da guerra se desintegrar e se dividir nos campos da guerra fria. Quando a criação do Estado Judeu foi colocada em votação na ONU, tanto a URSS como os EUA foram a favor.
A decisão dos líderes palestinos, e dos seus apoiadores no Iraque e em outros lugares, de se alinharem com a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial colocou-os no lado perdedor em 1948, mas não os deixou sem amigos no longo prazo. Em pouco tempo, realinharam-se com as forças do anti-imperialismo nas lutas globais da segunda metade do século XX. Assim, Gamal Abdel Nasser, o principal líder da causa anti-Israel nas décadas de 1950 e 1960, tornou-se um herói do movimento global anti-imperialista não-alinhado. E, tal como para a maioria dos membros desse movimento, “não alinhado” para Nasser significava estar alinhado com a União Soviética. A segunda guerra das três aconteceu exatamente no auge daquela guerra fria.
Mais uma vez, as memórias tendem a exagerar o que realmente aconteceu: Israel ainda não era um grande receptor de ajuda ou armamento americano, e um dos beligerantes árabes, a Jordânia, decididamente não estava no campo soviético. Mas num sentido mais amplo, a guerra foi vivida como um choque entre uma sociedade livre e alinhada com o ocidente contra a esfera anti-imperialista pró-soviética, sendo o regime mais responsável pela preparação e eclosão da guerra, o regime do Egito de Nasser, o mais associado a Moscou. A humilhação que os soviéticos sentiram pela derrota dos seus clientes ligou-se ao tradicional antissemitismo russo e desencadeou uma campanha global de antissemitismo de esquerda radical. Os temas deste esforço soviético coordenado – Israel como um estado de apartheid e um posto avançado do imperialismo ocidental, poderosos lobbies judaicos que manipulam a política externa americana e o sionismo como uma forma de racismo – sobreviveram à União Soviética e podem até mesmo serem considerados como a sua maior contribuição intelectual.
A terceira guerra também se enquadrava (de forma igualmente vaga e imperfeita) numa luta global contemporânea, aquela entre sociedades livres e o islamismo jihadista. Esta luta remonta pelo menos à Revolução Iraniana em 1978, atingiu o seu pico terrível nos ataques de 11 de Setembro e depois perdeu força ao longo das duas décadas seguintes por exaustão mútua. Foi pouco antes desse pico que aconteceu a rejeição de Camp David e a eclosão da segunda intifada. Ambas as decisões foram formuladas no mundo árabe e especialmente entre as várias facções palestinas em termos inteiramente consistentes com o Islã político. Isso se refletiu tanto nos métodos quanto nas mensagens. Al-Aksa esteve novamente no centro do conflito de 2000, e o terror jihadista, em particular os atentados suicidas, foi um dos meios mais eficazes e mortíferos de conduzir a intifada. Para os palestinos, a associação tornou-se um fardo depois do 11 de Setembro. Mas para os jihadistas de todo o mundo, a causa anti-Israel manteve o seu papel simbólico central.
Nos três casos, a causa da luta contra o Estado judeu enquadrava-se numa fissura geopolítica maior e, mesmo que o lado árabe não estivesse totalmente alinhado com as forças globais que o adotaram, o abraço externo reforçou o entusiasmo pré-guerra e o otimismo equivocado. Repetidas vezes, os palestinos serviram como ponta de lança de outrem. Mas as pontas das lanças tendem a quebrar quando atiradas e, quando isso acontece, é evidentemente mais fácil culpar a parede que atingiram do que a pessoa que as atirou. Assim, a adesão externa à causa palestina reforçou mais uma vez o instinto de auto interesse que conduziu ao apagamento pós-guerra das emoções pré-guerra e acompanham o caminho da vitória certa à perda iminente, chegando ao estágio final de repouso na pureza da vitimização.
IV. Experimentos e fracassos diplomáticos
Este processo continuou ao longo dos últimos vinte anos, mesmo quando tornou-se claro o irreversível preço da derrota palestina na segunda intifada.
A negação sobre as origens e consequências dessa catástrofe não se limitou aos palestinos ou ao mundo árabe em geral. A rejeição da paz em Camp David e a subsequente descida em direção à violência suicida foi o ponto de partida para uma experiência diplomática de dezesseis anos que não tinha chance de dar certo.
Na sequência da intifada, novos parâmetros para um acordo final foram propostos inúmeras vezes em vários contextos – por um consórcio de atores não governamentais de ambos os lados em Genebra em 2003 [4]; por um primeiro-ministro israelense em negociações diretas em 2008 [5]; por uma administração americana procurando concluir as prolongadas conversações de paz em 2001 e 2014 [6]; através de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU promovida em 2016 por uma administração em fase final de mandato, que depois se absteve de votar na própria proposta que tinha apresentado [7]. Cada um destes parâmetros oferecia melhores condições para os palestinos e piores condições para os israelenses do que aquilo que havia sido rejeitado em Camp David.
É crucial compreender que não havia nenhuma perspectiva concebível de sucesso ao usar um método tão louco. Como já escrevi para a Mosaic antes [8], se existe um princípio fundamental na mediação de conflitos é que a mediação procura chegar a uma solução que seja melhor para ambos os lados do que aquilo que qualquer um dos lados poderia esperar obter num confronto aberto. Isto é verdade para Estados em guerra; para casais que se divorciam; para gestão empresarial; e para quaisquer outras situações onde existam reivindicações concorrentes e a possibilidade de uma arbitragem forçada.
Por que? Se uma parte de um conflito rejeita uma solução de compromisso, inicia um confronto violento e é derrotada nesse confronto, nenhum mediador sensato oferecerá a esse lado melhores condições na próxima vez. As razões são óbvias. Eis que a oferta de melhores condições cria um novo incentivo para a parte perdedora continuar a rejeitar o compromisso, ao mesmo tempo em que retira da mesa o maior desincentivo ao confronto entre as partes, ou seja, o fato da passagem da mediação para a arbitragem ou para o confronto aberto poder acarretar um forte risco de perda maior pela parte que rejeita a solução de compromisso. Aliás, também desincentiva ainda mais o lado mais forte de se envolver seriamente em qualquer tipo de mediação, porque a mera entrada em negociações pode levar a uma diminuição do que poderia obter por um acordo.
E, no entanto, segundo um consenso quase universal entre os envolvidos na indústria de pacificação israelense-palestina, foi isto que aconteceu durante duas décadas após o colapso do processo de Oslo.
Esta experiência falhou, é claro. Num certo sentido, não foi muito diferente de algumas outras experiências fracassadas na diplomacia árabe-israelense, especialmente aquelas que se seguiram às outras duas guerras nas quais este texto se concentrou. O significado básico, comum em todos esses casos, era que os inimigos de Israel precisavam ser protegidos das consequências da sua derrota nas guerras que iniciaram e perderam. É notável que isto não parece ter acontecido nas guerras árabe-israelenses onde a aniquilação não figurava na retórica ou nas motivações declaradas – Suez em 1956, Yom Kipur em 1973, a primeira intifada, as guerras no Líbano. Mas certamente aconteceu na sequência das derrotas muito mais traumatizantes das guerras que começaram em 1947, 1967 e 2000.
Este quixotesco fracasso diplomático chega ao auge na mais cruel experiência humana da diplomacia pós-1945 em qualquer parte do mundo. A UNRWA (Agência de assistência e obras das Nações Unidas para os refugiados da Palestina) é a agência encarregada de cuidar das pessoas deslocadas pela guerra árabe-israelense de 1947-49. O seu mandato e as suas operações são completamente diferentes das do ACNUR (Alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados), a agência que gere todas as outras crises de refugiados no mundo. Ao contrário do ACNUR, que se esforça para resolver rapidamente as crises de refugiados, repatriando-os sempre que possível, reabilitando-os nos países de acolhimento quando a repatriação não é possível, e reassentando-os em países terceiros quando a reabilitação não é possível, a UNRWA esforça-se por consolidar o estatuto de refugiado. Tem a sua própria definição de refugiado, que inclui pessoas que não fugiram através de uma fronteira internacional, pessoas que já foram reabilitadas e receberam nova cidadania, e os filhos de pessoas deslocadas e os seus filhos. Administra serviços de bem-estar do berço ao túmulo com políticas radicalmente pró-natais. Foi assim que 200 mil pessoas deslocadas em Gaza – palestinos num enclave palestino, e não refugiados noutro país – tornaram-se quase 2 milhões de refugiados em 75 anos.
Um edifício diplomático global que mantém os palestinos num padrão permanente de miséria resultante de esforços derrotados de guerra árabes, onde os próprios palestinos nem sempre foram os atores centrais na descida à guerra ou os principais combatentes que as perderam, é diferente de tudo que a comunidade internacional tentou em outros conflitos. Os refugiados são normalmente rapidamente reassentados ou reabilitados, em vez de ficarem permanentemente na miséria e na amargura. As mudanças territoriais são normalmente negociadas rapidamente após o fim dos combates, com uma nova fronteira traçada em benefício do lado que venceu a guerra e o restante território ocupado imediatamente recuperado pelo lado perdedor, em vez de permanecer sob uma ocupação semipermanente. Este tem sido certamente o caso de outros movimentos de libertação nacional concorrentes no países onde grandes impérios desocuparam territórios ou ruíram.
Mas é claro que o conflito árabe-israelense não é um conflito normal, e a causa da Palestina Árabe ainda não é uma causa normal de libertação nacional. O fato fundamental deste conflito, no qual um lado acredita que a existência do outro é um crime metafísico para o qual uma solução justa só pode ser sua eliminação, significa que a prática diplomática padrão é muito mais difícil de aplicar, na melhor das hipóteses, e é embaralhada, invertida e abusada na pior delas.
V. Uma Quarta Catástrofe?
Nos últimos três anos, aconteceram todos os sinais de que outra catástrofe estava por vir. Duas décadas se passaram desde a segunda intifada, durante a qual nenhuma voz palestina ou pró-palestina confiável emergiu para avaliar os erros que levaram a ela; nem surgiu uma força diplomática para forçar tal avaliação. Seguindo o padrão estabelecido pelas três primeiras catástrofes, não havia razão para acreditar que a próxima catástrofe seria igual a elas; afinal, cada um diferia das outras de maneira marcante. No entanto, mais uma vez, a mesma dinâmica subjacente que gerou essas catástrofes também esteve presente.
Houve uma causa maior que se apropriou, pelo menos em parte, da causa anti-Israel, da mesma forma que a jihad global fez da última vez, da mesma forma que o bloco soviético fez na época anterior e da mesma forma que os fascistas impenitentes fizeram na época anterior. Um programa global de anticolonialismo e de políticas identitárias de esquerda assumiu a existência de Israel como o pior exemplo de colonialismo europeu branco no planeta, e a causa palestina como o seu inimigo legítimo. O resultado tem sido o mesmo: um projeto inacabado de libertação nacional, que poderia ser resolvido pelos pragmáticos, é, em vez disso, reformulado como uma luta cósmica contra uma entidade maligna cuja existência impede o caminho para a justiça.
Se houve um momento específico em que essa causa ajudou a desencadear a próxima catástrofe, foi durante alguns meses febris de 2021, quando todos os principais grupos de direitos humanos começaram a publicar relatórios acusando Israel de praticar o apartheid.
O raciocínio tortuoso, os dados deficientes e os métodos de investigação circulares destes relatórios foram objeto de numerosos outros textos e não serão o tema deste. O que é importante é o momento. O fato de tantas organizações terem feito anúncios portentosos sobre um limiar a ser ultrapassado quase ao mesmo tempo, sem qualquer coordenação aparente entre elas, é revelador. O estatuto jurídico dos territórios mudou drasticamente quando passaram a estar sob ocupação israelense em 1967. Provavelmente mudou novamente com a criação da administração civil de Israel no início da década de 1980. Certamente mudou novamente, e radicalmente, com a implementação do acordo de Oslo II ao longo de 1996-97. A liberdade de ação que o exército de Israel concedeu a si próprias no final da segunda intifada na Área A da Cisjordânia, que tinha ficado fora dos limites das forças israelenses durante os anos de Oslo, constituiu indiscutivelmente outra mudança legal.
Mas nada havia mudado em 2021, ou no ano anterior, ou mesmo na década anterior. Como então tantas organizações respeitáveis descobriram ao mesmo tempo uma nova categoria jurídica que Israel teria violado? Sem dúvida que alguma da sua motivação surgiu do receio de que a normalização árabe-israelense iria continuar [9] e, ao fazê-lo, enterrar a questão palestina. Porém, sobretudo, demonstra o quanto o ativismo anti-Israel no ocidente é uma atividade social, uma pose moral, sempre manobrando sob as sombras gêmeas do imperialismo ocidental [10] e da Shoá, que requer reafirmações periódicas de fé. E nada alivia simultaneamente o fardo do imperialismo e da Shoá como imaginar as vítimas deste último como portadoras dos pecados do primeiro.
Desta forma, um movimento nacional motivado menos por uma visão da sua própria libertação do que por uma visão da eliminação do seu inimigo recebeu outro vento global favorável tão tóxico como os anteriores fascistas, soviéticos e jihadistas. O resultado foi o mesmo. Os três anos anteriores ao 7 de outubro foram um período de otimismo desenfreado entre os intelectuais palestinos. Israel estava a apodrecer, a perder a sua legitimidade, e não conseguiria sustentar-se, eles sabiam. Um surto de violência em maio de 2021 levou muitos deles a concluir que uma luta abrangente palestina contra a entidade sionista em todas as suas manifestações estava finalmente tomando forma. A violência passou a ser vista como parte de uma “intifada de unidade”, em que os foguetes vindos de Gaza, o combate de baixa intensidade com os colonos e o exército de Israel na Cisjordânia e uma semana de tumultos entre judeus e árabes dentro das cidades israelenses foram todos vistos como frentes da mesma luta – nativos palestinos rebelando-se como podiam contra uma imposição colonial israelense.
Foi uma péssima leitura da situação, sobretudo devido à evolução da relação entre árabes e judeus em Israel. Menos de dois meses após os acontecimentos de maio, um partido árabe independente juntou-se a um governo de coalizão pela primeira vez na história de Israel, um sinal claro de que Israel não estava nem apodrecendo nem perdendo a legitimidade, um sinal reforçado pelos laços crescentes entre Israel e outras nações árabes na mesma época. Em última análise, o que parecia aos palestinos ser um consenso global emergente de que Israel era um mal essencial – não um Estado ou uma sociedade cujas ações pudessem ocasionalmente suscitar controvérsia e oposição, mas uma presença irremediavelmente maligna no cenário internacional – foi tão deslumbrante e, em última análise, cegante, como as tentativas anteriores vindas de fora da região e de seus conflitos para comprimir a causa palestina num rígida moldura ideológica.
Em outras palavras, a justiça e a certeza infundada da vitória anterior a 1947, 1967 e 2000 estavam de volta, e o cenário estava montado para um êxtase generalizado quando, na manhã de 7 de outubro, os partidários da causa palestina em todo o mundo acordaram com as notícias da atrocidade do Hamas no sul de Israel. No imediatismo de uma paixão avassaladora que momentaneamente pôs de lado todos os pensamentos sobre as consequências, eles exultaram. Os exemplos são tão numerosos e provavelmente serão tão familiares para a maioria dos leitores que não precisam ser detalhadamente descritos. Houve um combatente do Hamas que telefonou aos seus pais de Israel para lhes dizer: “Vejam quantos matei com as minhas próprias mãos! Seu filho matou judeus!” ao que ambos os pais choraram de alegria e orgulho. Houve o professor de história em Cornell que gritou: “Foi estimulante, foi energizante”, numa marcha comemorativa na semana seguinte. Houve a mulher palestina britânica que gritou na TV que “Nada jamais será capaz de recuperar este momento, este momento de triunfo, este momento de resistência, este momento de surpresa, este momento de humilhação em nome da entidade sionista – nada sempre." Estas emoções foram ainda mais inflamadas pelo nome da operação do Hamas, “Dilúvio de al-Aksa”, destinada a trazer à tona as emoções relacionadas com Jerusalém, embora os combates não estivessem nem perto disso; pela mesma razão, os líderes do Hamas promoveram propaganda alegando que Israel estava planejando destruir a mesquita.
E ainda assim, paixões fenecem e êxtase é passageiro. A exultação estimulada pelo massacre de 7 de outubro já está a desvanecer-se e a agora familiar sensação de perda surge. Neste momento, a guerra está contida em Gaza, embora ninguém possa garantir que não se espalhará para a Cisjordânia e além. O preço para Israel será elevado e Israel está longe de ser inocente na série de acontecimentos que a provocaram. Mas o preço para os palestinos será muito, muito mais elevado, e muito do que será perdido será irrecuperável. E se a geração atual seguir os seus antecessores e transformar essa perda numa história de vitimização que encobre a derrota e a excitação que a precedeu, há boas probabilidades de que mais um episódio na cadeia de desastres palestinos venha a aparecer mais para frente.
======
Traduzido do inglês por Raul Cesar Gottlieb
[1] O Aeroporto Internacional Yasser Arafat, que funcionou em Gaza entre 1998 (construído sob os auspícios dos Acordos de Oslo) e 2001 (destruído no curso da reação israelense à intifada iniciada em 2000). O aeroporto, que era operado pela Autoridade Nacional Palestina e o Estado de Israel, foi a base da Palestinian Airlines, empresa de aviação definitvamente encerrada em 2020. [nt]
[2] Ariel Sharon era, na época, o líder da oposição ao governo do primeiro ministro Ehud Barak. Sua coalizão venceu as eleições do ano seguinte. Ele foi primeiro ministro de Israel entre março de 2001 e abril de 2006.
[3] O autor usa o termo “imperialista” para denominar tanto o colonialismo europeu dos séculos 16 a 20, como à predominância militar e econômica norteamericana no mundo, nos dois últimos séculos. [nt]
[4] Procurar na Wikipedia por “Geneva Initiative”. [nt]
[5] O primeiro ministro Ehud Olmert. [nt]
[6] Respectivamente, as administrações de George W. Bush e Barack Obama. [nt]
[7] Administração de Barack Obama. [nt]
[8] Consultar a internet pelos artigos de Shany Mor em mosaicmagazine.com intitulados “The Return of the Peace Processors” e “Stuck on the Wrong Road to Peace”, publicados respectivamente em 01 e 25 de fevereiro de 2021. [nt]
[9] O autor está se referindo aos “Acordos de Abraão”, assinados em setembro de 2020. [nt]
[10] Ver a nota 3 acima, para entender a referência do autor ao “imperialismo ocidental”. [nt]