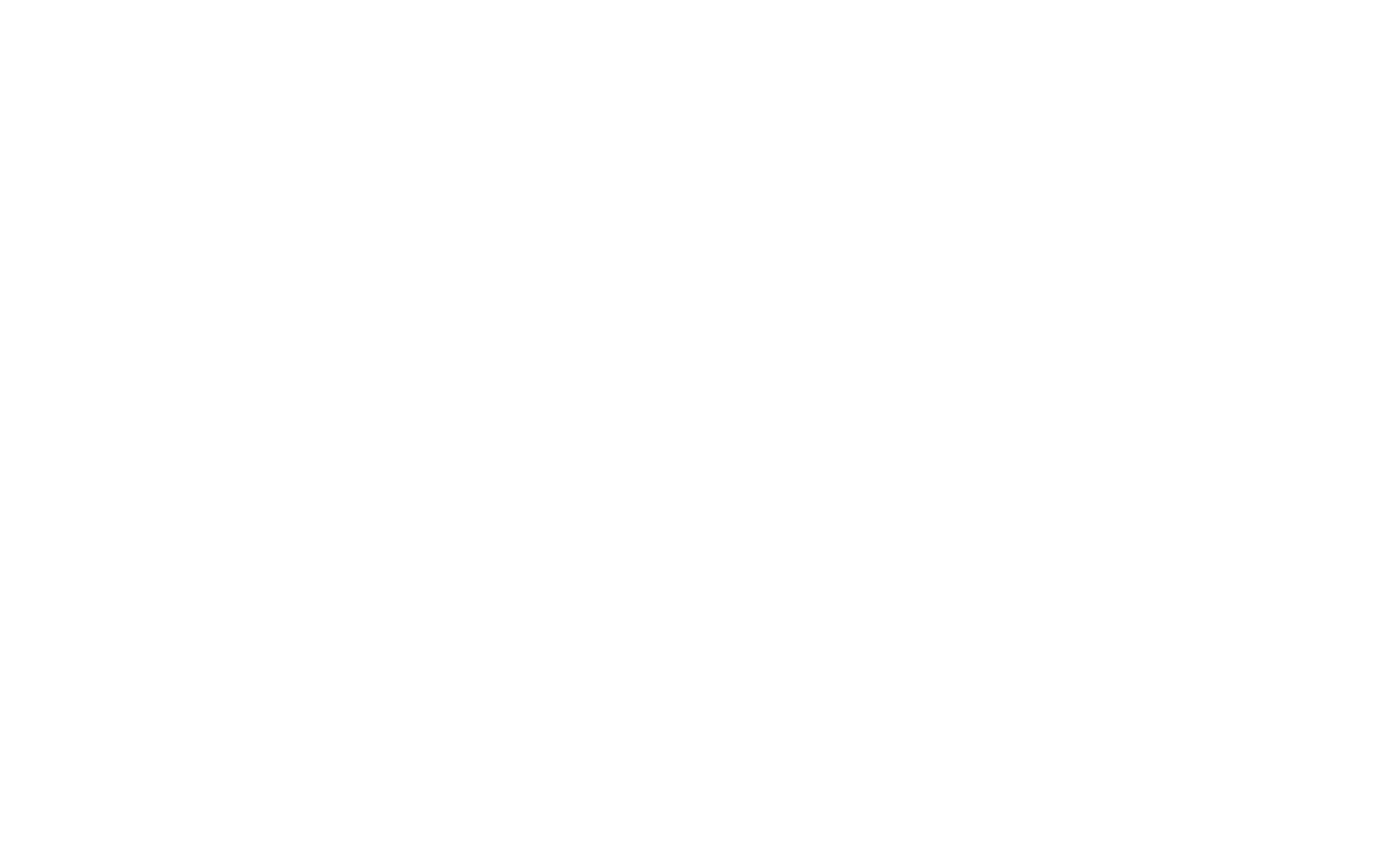Um
dicionário especial para Israel
Por Shany Mor, para o Mosaic (mosaicmagazine.com) em 10 de janeiro de 2024
|
A |
essência do direito é sua
generalização. Apelamos ao "estado de direito” quando queremos julgar casos específicos seguindo normas gerais. Esta é uma verdade fundamental para qualquer tipo de
lei, desde os estatutos municipais até o direito humanitário internacional.
Segundo Jean-Jacques Rousseau, uma lei é uma regra geral, feita num contexto
geral com uma aplicação generalizada. Um decreto, por outro lado, trata apenas
do particular. Rousseau é inflexível nesta distinção. O que, do ponto de vista
processual, pode se assemelhar a uma lei não é, na verdade, a criação de algo
legal, caso se ocupe apenas de um caso específico.
A generalização até pode nos
ajudar a determinar o que é uma regra apenas observando sua aplicação.
Considere a seguinte experiência mental. Um guarda de trânsito está com um
radar na beira de uma estrada. Cinco carros passam em cinco velocidades diferentes:
50 km/h, 55 km/h, 60 km/h, 70 km/h e 80 km/h. Dois são parados e três passam
livremente. Podemos determinar qual foi a regra aplicada?
Bem, se os carros que iam a 50,
55 e 60 passaram, e os carros que iam a 70 e 80 foram parados, poderemos
assumir com segurança que há um limite de velocidade superior a 60 e inferior a
70, talvez até exatamente 65. Se os carros parados estivessem indo a 50 e 80,
poderíamos supor que há uma velocidade mínima em torno dos 55 e uma máxima em
torno dos 75, mas esta seria uma suposição um pouco menos firme.
Se observássemos apenas os
carros que iam a 55 e 70 foram parados, mas não aqueles que iam a 50, 60 e 80,
poderíamos assumir que não havia regra alguma, ou pelo menos nenhuma regra
relativa à velocidade. Se, neste caso, se percebêssemos que os carros parados
tinham condutores negros e os outros três condutores brancos, poderíamos
concluir que havia um tipo de regra totalmente diferente regendo o
comportamento do polícia.
Tentar determinar o direito
internacional consuetudinário através das reações aos comportamentos dos
diferentes Estados, especialmente na guerra, funciona da mesma forma. Parece
que um motorista está violando o limite de velocidade, que muda constantemente,
ou às vezes até mesmo não existe e é estabelecido de acordo com condições
retroativas inventadas.
Quando se trata de Israel, as
bombásticas afirmações sobre o "direito internacional" servem a duas funções retóricas. A primeira
é desviar qualquer suspeita de parcialidade contra Israel. A alegação implícita
é que as explosões emocionais que acompanham qualquer ação israelense não se
devem a uma animosidade especial em relação a Israel – ou Deus me livre,
possivelmente até mesmo a um antissemitismo latente – mas sim à aplicação
neutra dos princípios gerais da ordem internacional em vigor desde 1945, se não
antes.
A segunda função retórica quase
nunca é reconhecida, mas que todos sabem que existe. O nosso padrão de
referência mais proeminente para os violadores do direito internacional, a
nossa imagem dominante de "criminosos de guerra” e "tribunais internacionais”, é, obviamente, o nazismo. Agregar esta
terminologia a toda e qualquer ação militar levada a cabo por Israel ao longo
de décadas remete à fantasia de poder arrastar os judeus a uma espécie de
tribunal onde a sua culpa poderá, finalmente, ser estabelecida.
Proporcionalidade
Talvez
o termo mais mal utilizado no universo das leis da guerra seja "proporcionalidade". Todas as ações militares que Israel conduziu durante minha
vida foram consideradas "desproporcionais".
Normalmente, a argumentação é feita através da comparação de estatísticas de
baixas e, de fato, em todas as guerras de Israel, o número de baixas
israelenses sempre foi significativamente inferior às dos seus inimigos. É raro
que o lado que ganha uma guerra tenha mais baixas do que o lado que a perde, e
Israel emergiu com vantagem em todos os confrontos militares com os seus
vizinhos árabes, mesmo aqueles que começaram nas piores condições possíveis
para Israel.
Quando os exércitos modernos
enfrentam guerrilhas ou organizações terroristas, o número de mortos também
tende a ser desequilibrado, mesmo nos casos em que os exércitos modernos são
derrotados. Nem a moralidade de uma causa, nem a legalidade dos meios empregados
é avaliada pela contagem de corpos. Os Aliados mataram muito mais combatentes
alemães e japoneses do que perderam, e muito, muito mais civis. Ainda mais
desigual tem sido o número de baixas nas guerras conduzidas pelos Estados
ocidentais desde o fim da Guerra Fria: na ex-Iugoslávia, no Iraque, no Panamá,
em Mali, em Serra Leoa e noutros locais.
De qualquer forma, a contagem
comparativa de baixas não tem muito a ver com a definição legal de
proporcionalidade, que, como explica o Comitê Internacional da Cruz Vermelha,
exige que "os
meios e métodos bélicos utilizados não devem ser desproporcionais à vantagem
militar pretendida".
Este conceito jurídico é
certamente confuso e nada intuitivo. Para um ouvido destreinado, realmente
parece que se trata de uma questão de comparar o número de vítimas; e mesmo
para um ouvido treinado, o conceito é difícil de ser posto em prática. Os danos
colaterais de uma operação militar devem ser proporcionais ao resultado militar
pretendido – mas qual a proporção desejada? Os exemplos simples que são
normalmente apresentados nas análises jurídicas – destruir uma aldeia inteira
para localizar um único combatente não é, obviamente, proporcional – não se
parecem em nada com os dilemas que os comandantes enfrentam no terreno. O que
fazer com uma unidade de fabricação de armas escondida numa casa? Deverão
soldados perseguir agressores não uniformizados numa área residencial? Deveria
ser atacado um alvo militar de alto valor, localizado, segundo informações
confiáveis, num lugar no qual não há certeza de que não haja civis por perto? E
quanto à infraestrutura militar crucial que também tem uma secundária aplicação
civil? Resolver estes dilemas é difícil; e com informações que podem ser
falhas, o normalmente embaçado ambiente da guerra e a falta de simpatia pelo
lado contra o qual lutam, tais dilemas poderão ser interpretados de formas
muito diversas, em avaliações feitas por observadores apartidários após o fim
das hostilidades, fora do teatro de combate.
Punição Coletiva
O primeiro termo jurídico do
direito internacional a ser utilizado contra Israel de uma forma muito
singular, até mesmo antes da proporcionalidade, foi “punição coletiva”. As
tentações que este termo oferece são uma pequena versão daquilo que todo o discurso
parece tentar alcançar – a emoção de lançar um termo que evoca imediatamente
associações nazistas ao Estado judeu.
A punição coletiva é
normalmente definida como penalidades, incluindo punições criminais e
administrativas, impostas a um grupo de pessoas por ações cometidas por outra
pessoa.
Para um exército de ocupação,
prender todos os civis numa aldeia a partir da qual se suspeita que tenha sido
originado um ataque de guerrilha e depois executar alguns ou todos os civis,
com plena consciência que as pessoas executadas não têm nada a ver com o
ataque, é uma forma de punição coletiva. Os alemães recorreram frequentemente a
esta tática na Polónia ocupada.
No entanto, quando se trata de
Israel, este termo assumiu uma nova definição: grosso modo, uma ação militar
que afeta qualquer pessoa que não esteja diretamente envolvida na ação à qual o
exército está reagindo. A alegação é que ação armada contra Israel é uma forma
de atividade criminosa e não de atividade militar, e que Israel deveria,
portanto, reagir com algum tipo de justiça criminal – localizando o
perpetrador, prendendo-o, levando-o a julgamento.
Afirmando o óbvio: não é assim
que exércitos conduzem guerras. Nenhum exército tem como alvo apenas os
soldados inimigos que estiveram diretamente envolvidos nas hostilidades. E
nenhum exército evita atingir alvos e infraestruturas que degradam a capacidade
do inimigo em continuar a luta, porque o ataque pode afetar negativamente o
país inimigo como um todo. Pelo contrário, normalmente esse é o objetivo e,
desde que a operação respeite os princípios da proporcionalidade e da
discriminação, fazê-lo é considerado um ato normal de guerra.
A punição coletiva foi, em
muitos aspectos, a primeira tentação daqueles que construíram o dicionário
especial contra Israel. Fazia parte do discurso anti-israelense já na década de
1960. Infiltrou-se no mainstream da mesma forma que as acusações posteriores:
primeiramente, foi repetido por ativistas numa variedade de contextos
improváveis; depois os acadêmicos o adotaram; e, finalmente, foi amplificado
pelos meios de comunicação que não tiveram outra escolha senão reproduzir
fielmente o que os especialistas relevantes falavam sobre a situação.
Uma pesquisa nos arquivos do
New York Times, retroagindo cerca de 100 anos, mostra que o termo "punição
coletiva" aparece 633 vezes, das quais 447 (70%) referem a Israel. Há dois
fatores aí e convém separá-los conceitualmente. Uma delas é a atenção obsessiva
a Israel e aos seus alegados pecados. Alguns dos atos referidos merecem ser
considerados como possíveis reivindicações de punição coletiva, mais
notavelmente a tática israelense de demolir as casas das famílias dos
terroristas mortos durante a realização de ataques. Mas isso ainda não chega
perto de explicar por que razão há tantas referências às ações israelenses e
tão poucas às ações de Estados e exércitos em tantos outros conflitos armados
durante o mesmo período.
A segunda coisa é menos
perceptível, mas em muitos aspectos ainda mais significativa. Não é tanto a
descomunal atenção crítica que é exclusiva de Israel, mas sim a discriminação
conceitual de qualquer pecado de Estado quando aplicado a Israel. Porque embora
alguns dos feitos que o Times referencia sejam de atos que podem ser
considerados como punição coletiva, muitos são de atos normais de guerra. As
ações que muitos exércitos em conflito empreenderam no mesmo período – algumas
justificadas, outras criticadas, outras ainda totalmente ignoradas – não são
rotuladas com um nome que evoque crimes nazistas, exceto quando são levadas a
cabo pelo Estado judeu.
Ocupação
Proporcionalidade e punição
coletiva são, ambos, termos técnicos fáceis de utilizar indevidamente como
indicadores morais no discurso quotidiano, e talvez por isso se prestam tão
facilmente a uma redefinição personalizada.
A ocupação é bem diferente.
Ocupação não é um termo moral. Descreve um estatuto jurídico (temporário)
causado pela guerra. Quando o exército de um Estado detém território que
anteriormente pertencia a outro Estado, esse território é considerado ocupado até
que um novo arranjo político seja estabelecido. Um território é normalmente
ocupado durante ou imediatamente após uma guerra. As ocupações não são ilegais,
mas um exército ocupante tem certas obrigações legais, conforme enunciado em
dois corpos de direito internacional, a Convenção de Haia de 1907 e a mais
detalhada Quarta Convenção de Genebra de 1949.
Além disso, as ocupações não
são normalmente consideradas como causas da guerra, mas sim como uma das
consequências da guerra. No caso de Israel e dos territórios que conquistou aos
Estados árabes vizinhos, isto ficou claro logo após a guerra, mas obscureceu
com o passar do tempo. Os territórios foram ocupados porque Israel venceu uma
guerra que os seus inimigos instigaram, cujo objetivo declarado era a
destruição de Israel. A ocupação continuou porque, em vez de fazerem a paz com
Israel e recuperarem territórios, estes inimigos derrotados, pelo menos
inicialmente, recusaram-se a envolver-se em qualquer tipo de negociações com
Israel que pudesse terminar em reconhecimento total. Quando esta recusa
terminou, como por exemplo no Egito na década de 1970, a ocupação também
terminou.
Em contraste, a recusa dos
palestinos no ano 2000 e seguintes em concordar com um acordo de paz com Israel
que envolvesse uma reconciliação total – reconhecimento da legitimidade de
Israel como um Estado judaico e cessação das reivindicações – congelou o
complicado status quo da Cisjordânia nos acordos "provisórios” da década de 1990. Na prática, o acordo de fato desde
cerca de 2002 é ainda pior para os palestinos do que os acordos provisórios,
uma vez que não só as IDF ainda ocupam totalmente 61 por cento do território
(no que é conhecido como Área C), mas também regularmente entram em áreas que,
segundo os acordos, deveriam estar sob total controle de segurança palestino.
Na Faixa de Gaza, a divergência
com relação aos acordos provisórios foi no sentido oposto. Os acordos
provisórios levaram Israel a retirar-se de cerca de 80 por cento da Faixa em
1994. Em 2005, Israel abandonou unilateralmente os restantes 20 por cento e
desenraizou todos os colonos israelenses que lá viviam lá – ações tomadas à
margem dos acordos. Em novembro daquele ano, foi alcançado um acordo
multilateral entre Israel, a Autoridade Palestina, os EUA e a UE sobre o acesso
a Gaza. Incluía disposições para uma travessia segura com o Egito em Rafah, uma
passagem segura para a Cisjordânia e a construção de um porto marítimo em Gaza.
A implementação foi difícil, especialmente depois da eleição de um governo
liderado pelo Hamas em 2006. O acordo tornou-se letra morta um ano mais tarde,
quando o Hamas efetuou um golpe de Estado em Gaza e os inspetores de fronteiras
europeus fugiram.
Isso aconteceu em 2007,
exatamente 100 anos depois da Convenção de Haia, aquela que estipulou que "um
território é considerado ocupado quando é efetivamente colocado sob a
autoridade do exército hostil. A ocupação estende-se apenas ao território onde
tal autoridade foi estabelecida e pode ser exercida.” Esta definição durou um
século e nunca foi questionada ou revista por qualquer tratado internacional ou
decisão legal oficial de qualquer tipo. Quase nada de nossas concepções sobre
ordem internacional, guerra ou soberania permaneceram inalteradas durante duas
guerras mundiais, a descolonização, a guerra fria e todas as outras convulsões
do século passado, mas esta definição permaneceu.
Isto é, até que Israel se
retirou completamente de Gaza, e de repente, por consenso quase completo, toda
a comunidade de "especialistas" jurídicos e "ativistas"
humanitários começou a inventar novas definições personalizadas de ocupação com
o propósito expresso de considerar Israel um ocupante de Gaza.
Israel controla as fronteiras
de Gaza, dizem, o que é apenas parcialmente verdadeiro. Israel controla apenas o
seu lado da fronteira com Gaza, tal como qualquer país do mundo controla o seu
lado da fronteira, mas não, por exemplo, a fronteira de Gaza com o Egito.
Israel, acrescentam os juristas, mantém um bloqueio naval a Gaza. Isto é
absolutamente verdadeiro, mas um bloqueio é um ato de guerra, regido pelas leis
da guerra, e inteiramente aplicável desde que a autoridade governamental em
Gaza não impediu o lançamento de foguetes contra cidades israelenses próximas
(como foi o caso até 2007) ou é ativamente responsável pelos foguetes e mísseis
(como tem sido o caso desde 2007).
A questão disso tudo não é a
unilateralidade ou até mesmo a hipocrisia. Um conflito sempre provocará a
hipocrisia dos partidários alinhados com os vários lados. E Israel está longe
de ser inocente dos problemas de Gaza, nem todas as suas decisões e avaliações
foram sábias ou eficazes.
A questão é que, ao apresentar
um argumento jurídico, é necessário apresentar uma premissa jurídica real –
isto é, uma norma geral que possa ser aplicada a casos específicos. Mas a
palavra "ocupação" não está sendo usada em nenhum sentido jurídico; pelo contrário, é uma forma
simpática de atribuir toda a culpabilidade moral a Israel – pelas ações de
Israel, claro, mas também por quaisquer delitos dos palestinos, na verdade,
pelo estado geral de todo o conflito.
Foi por isso, e só por isso,
que dentro do mundo dos autonomeados guardiões da retidão moral global a
palavra ocupação não pôde ser abandonada. É por isso que as novas definições –
alguma coisa, qualquer coisa – são colocadas em uso tão rapidamente, sem qualquer
cuidado com a consistência. Pois se um território é ocupado porque a sua
fronteira com um vizinho hostil está fechada, uma grande parte do globo está
ocupada. Se um território é ocupado porque existe um bloqueio, pode-se dizer
que quase todos os países em guerra nos tempos modernos estiveram sob ocupação.
(Na verdade, dado o bloqueio Houti ao Mar Vermelho, Israel poderia, por esta
lógica, ser considerado ocupado pelo Iêmen.) E se um território estiver ocupado
porque um poderoso exército próximo poderia entrar nele, mas não o faz,
dificilmente há um pedaço de terras neste momento que não estão "ocupadas".
Mas esta definição não se
destina a ser aplicada em qualquer outro lugar. Destina a ser aplicada apenas a
Israel. Não é legal, ou em qualquer sentido normativa. Não existe uma regra
geral aplicada a Israel, no sentido de que os carros israelenses circulam acima
do limite de velocidade e outros não.
Há, no entanto, uma "regra"
clara a ser aplicada, que se assemelha ao exemplo dos motoristas que foram
parados não tanto pela velocidade com que dirigiam, mas por causa de quem são.
O Último Termo
No mundo dos ativistas globais,
há uma devoção quase teológica ao postulado de que Israel é exclusivamente mau,
interpondo-se no caminho da fraternidade global, e que as pessoas boas em todo
o mundo veriam isso claramente se redes de pessoas poderosas não estivessem
usando seu dinheiro e influência para distorcer a verdade e silenciar a
crítica. A única forma de fazer com que esta patologia pareça um programa
político fundamentado é recorrer ao direito internacional. O argumento é:
existem leis e Israel as está violando, portanto, o meu ódio intenso por Israel
é apenas uma aplicação destes elevados princípios. E é necessário manter esse
conceito, caso contrário sua patologia obsessiva vai começar a parecer,
digamos, uma patologia obsessiva.
Como mostrei num ensaio
anterior sobre Jerusalém, o
argumento jurídico muitas vezes não faz sentido em seus próprios termos. No
caso de Jerusalém, a crítica a Israel assenta-se em quatro normas jurídicas –
internacionalização, linha de armistício, estatuto final, status quo – que não
existem em parte alguma e que na verdade se contradizem, cada uma aplicada
seletivamente para um argumento diferente, e sempre de uma forma que torna a
posição israelense não apenas pouco convincente, desaconselhável ou imprudente,
mas de alguma forma criminosa.
Durante anos foi extremamente
óbvio que o próximo termo a ser colonizado em benefício do ativismo anti-Israel
seria o genocídio. Depois de algum tempo à espreita, foi precisamente isso que
aconteceu desde 7 de outubro. Não por coincidência, essa escalada retórica foi
provocada pela operação do Hamas, que, mais do que qualquer outro incidente no
conflito de um século sobre a Palestina, na verdade pareceu genocida.
Einsatzgruppen com câmeras GoPro.
Foi o ataque original do Hamas, e não a resposta israelense, que trouxe as acusações de genocídio – acusações de genocídio israelense contra os palestinos – para o mainstream. Essas acusações precederam a operação militar israelense em Gaza e basearam-se nas provas mais frágeis possíveis, como quando o ministro da defesa israelense disse: "Estamos lutando contra animais humanos". Em outras palavras, num momento em que Israel estava combatendo aqueles que queimaram, violaram, mutilaram e raptaram israelenses – quando as forças israelenses ainda estavam expulsando esses terroristas do território israelense que tinham invadido no dia 7 de outubro – tais palavras foram apresentadas como uma desumanização dos palestinos enquanto povo e como prova de intenção genocida. "Não podemos ficar parados enquanto as autoridades israelenses recorrem a uma linguagem genocida e descrevem intenções genocidas contra os palestinos pelas ações do Hamas”, escreveu Karen Attiah do Washington Post em 13 de outubro, muito antes de as forças israelenses entrarem em Gaza. Isto, embora as palavras do ministro não se diferenciem nem um pouco das descrições que os líderes ocidentais fizeram das forças que combateram no Estado Islâmico (ISIS) ou mesmo dos líderes e das forças armadas do Iraque, Afeganistão, Somália, Sérvia e outros lugares. Joe Biden chamou o ISIS de "bárbaros" no lançamento da operação anti-ISIS durante a administração Obama em 2014, uma operação que surgiu em resposta a ataques contra americanos que foram minúsculos em comparação com o massacre de 7 de Outubro; George W. Bush referiu-se à Al Qaeda como "criminosos bárbaros" no dia em que as operações militares contra o Afeganistão começaram, em 7 de outubro de 2001.
As alegações de genocídio
israelense em Gaza, embora improváveis, são mais uma vez expressas em linguagem
acadêmica e em princípios jurídicos que são inventados para Israel e apenas
para Israel. Se alguma delas fosse aplicada a qualquer outro teatro de conflito,
dificilmente haveria uma ação militar no mundo que não pudesse ser classificada
como genocídio. Nisso, eles seguem uma tradição bem conhecida, que se considera
invisível, mas que na verdade é transparente.
Sobre o Autor Shany Mor
Shany Mor é um importante teórico
político e consultor cujo trabalho reflete sua experiência adquirida tanto como
acadêmico quanto como profissional. Ele ensinou política e relações
internacionais nas principais universidades de Israel, da Europa e dos EUA, e
prestou consultoria para políticos e ONGs sobre uma série de questões,
aproveitando sua experiência tanto como acadêmico quanto como Diretor de Política
Externa para o Conselho de Segurança Nacional de Israel, onde também chefiou o
gabinete diplomático da sala de situação do Gabinete do Primeiro-Ministro.
Desde que concluiu seu
doutorado em Política e Relações Internacionais em Oxford, Mor tem sido um
analista político requisitado em Israel e em todo o mundo, aparecendo
regularmente em uma ampla variedade de programas de rádio, programas de
televisão e painéis de grupos de reflexão em inglês, hebraico e francês.
Entre palestras e a autoria de
artigos de reflexão altamente aclamados, Mor mantém bolsas na Universidade de
Haifa e no Hannah Arendt Center no Bard College, e trabalha como pesquisador no
Israel Democracy Institute, onde estuda parlamentarismo enquanto escreve seu próximo
livro a ser editado pela Oxford University Press: "A Theory of Political Representation".
Traduzido
do inglês por Raul Cesar Gottlieb